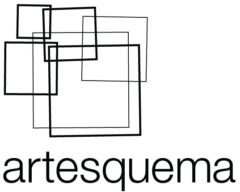31a Bienal de Arte de Ṣo Paulo РArte da discusṣo
Yael Bartana. Inferno. Still de vÃdeo. 2014 A recém-inaugurada 31ª Bienal de São Paulo propõe um formato novo, de caráter eminentemente polÃtico, com muitos elementos para instigar e incomodar os visitantes. Tendo pela primeira vez uma equipe curatorial formada por estrangeiros, a mostra traz 81 projetos de mais de 100 artistas de 34 nacionalidades, em programa idealizado pela equipe do curador Charles Esche. A mostra fica em cartaz até o dia 7 de dezembro.
Ao entrarmos no Pavilhão da Bienal vemos algumas instalações resultantes de processos colaborativos entre coletivos de artistas e ativistas, e uma estrutura para receber atividades como debates, performances e shows artÃsticos e de movimentos socioculturais. No andar térreo, os trabalhos se colocam de modo esparso, e alguns se postam como pontos de leitura e pesquisa sobre ações ativistas e situações de convulsão social. Como aponta a curadoria, esta exposição não se funda em objetos, mas em pessoas que trabalham com outras, colaborativamente, e pode ser compreendida mais como um processo aberto a indagações, ações, reflexões crÃticas e polÃticas pela arte do que um panorama artÃstico internacional. Por sua vez, seu tÃtulo acompanha essa premissa, sendo também um jogo aberto a possibilidades poéticas e reflexivas. Como (…) coisas que não existem, traz parênteses que podem ser preenchidos por muitos verbos: ver, falar, procurar, celebrar, e invoca a potência da arte e sua habilidade de influenciar a vida, o poder e credos.
A maioria dos projetos expostos, muitos realizados para a ocasião, aborda assuntos polÃticos, religiosos, sexuais, ecológicos, educativos, indicando que as tais “coisas que não existem” são situações da vida cotidiana palpitantes mas invisibilizadas por sistemas e culturas de exclusão e preconceito. Os curadores defendem uma Bienal sobre o estado de “virada” do mundo contemporâneo, onde é necessário se afastar dos estabelecidos parâmetros da modernidade, o que vem a ser um discussão bem europeia. Ancorada nessa ideia, a proposta curatorial minimiza os “critérios estéticos do modernismo” e parece também minimizar a modernidade brasileira, cuja história se afastou dos parâmetros estabelecidos pelo pensamento europeu assim que nasceu no espaço social.
Essa busca por outros critérios, menos estéticos, talvez justifique a boa quantidade de trabalhos polÃticos mas pouco interessantes do ponto de vista plástico-visual, e outros que são muito literais no seu ativismo e exageram na composição de instalações cenográficas. Além disso, há instalações estranhamente ruins, que na verdade funcionam apenas quando ativadas por performances, como é o caso de Espacio para Abortar, do coletivo boliviano Mujeres Creando.
Como em outras edições recentes, a 31ª Bienal tem atividades que ocorrem no interior do pavilhão e intervenções espalhadas no Parque do Ibirapuera. Não há artistas estelares, e os históricos são poucos, mas entre eles se destaca a poética sala do polonês Edward Krasinki (1925-2004), e os filmes do espanhol Val del Omar, filmados na ditadura franquista, nos anos 1950. Entre as obras recentes, chama a atenção a sala Dios Es Marica, organizada por Miguel Angel Lopez, com trabalhos queer dos anos 1970-80, de artistas ibero-americanos. Um dos trabalhos mais impactantes é “Inferno”, filme de ar épico da israelense Yael Bartana que critica as estratégias da indústria da fé na disputa por poder. Também é destaque a videoinstalação em multicanais do coletivo russo Chto Delat.
Os curadores replicam temáticas na moda nos paÃses centrais, e conseguem se manter algo isentos das influências do mercado de arte que guia o movimento da internacionalização da arte brasileira nos últimos anos. Assim, há a integração de artistas desconhecidos no Sudeste, com visualidades em princÃpio pouco comerciais, como é o caso do paraense Éder Oliveira, que pintou um mural no Pavilhão com retratos de criminosos, tal como realiza nas ruas de Belém. A diversidade das nacionalidades da equipe deu um aspecto multicultural bastante apropriado, e permitiu com que obras polÃticas de distintos contextos sejam apresentadas.
Charles Esche é um nome conhecido na cena internacional atual e se destaca por desenvolver projetos que problematizam formatos engessados. Nesse sentido, sua Bienal questiona o modelo das bienais mais tradicionais em um mundo tomado pelo modelo excludente do capitalismo. Ainda assim, como qualquer ator influente no sistema da arte, não escapa da contradição de apontar as mazelas da sociedade contemporânea, consumista e elitista, enquanto recebe o patrocÃnio do banco privado mais lucrativo do paÃs, cujo texto institucional na exposição afirma que é bom investir em cultura por que #issomudaomundo.
Link: http://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/critica-bienal-de-arte-de-sao-pauloarte-da-reflexao-13856635