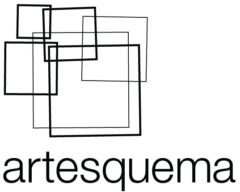Inhotim é um complexo de arte contemporânea e paisagismo em Minas Gerais, considerado um dos mais espetaculares museus ao ar livre do mundo. Possui dezenas de pavilhões únicos com obras de expoentes artÃsticos nacionais e internacionais, rodeados por uma flora exuberante e bem-cuidada. Tudo é arte no parque de 140 hectares com mais de mil espécies de plantas, e harmônicas intervenções arquitetônicas e artÃsticas. Requintes como os bancos-troncos de Hugo França espalhados sob árvores, e um lago verde de tom artificial habitado por carpas, completam um cenário onÃrico.
Criado em 2002 pelo colecionador e empresário do minério Bernardo Paz, Inhotim surgiu para propiciar bem-estar e experiência sensÃvel a públicos de diferentes estratos sociais. Após 13 anos, o número de visitas cresce de acordo com metas próximas à s de grandes parques temáticos, e em seu cerne brotam contradições tÃpicas de nosso tempo. Mantido em boa parte pela mineração que corrói as montanhas vizinhas, Inhotim precisa orquestrar a delicada relação entre consumo de massa, indústria do entretenimento e modos de apresentar e transmitir sutis conteúdos artÃsticos sem banalizá-los como playgrounds.
Nos jardins, pessoas admiradas circulam ou fazem filas para ver algo que não reconhecem de imediato como arte, comprovando a importância de haver tais atrativos para um público em formação. Entretanto, diante de várias obras em mau estado de conservação – pelo excesso de manipulação ou por falhas técnicas – surge uma dúvida em relação à capacidade de orientação das massas nas galerias. Peças rachadas, mau-cheiro, arranhões, luzes queimadas e outros problemas, avisam que algo não vai tão bem. Sonic Pavillion, de Doug Aitken, apresentava revestimentos arrancados dos vidros e assoalho, além de defeito no áudio do “som da terra”. Já Neither, de Doris Salcedo, Beam Drop, de Chris Burden e Elevazione, de Giuseppe Penone estavam interditadas, enquanto obras como Falha, de Renata Lucas, e uma escultura em acrÃlico e espuma de sabão, de Davi Lamelas, se mostravam desconjuntadas e quebradas. O diretor artÃstico de Inhotim, Antonio Grassi, comentou atencioso que a manutenção está sempre em marcha. Contudo, o desfaio é grande, pois enquanto o público novato nas galerias insiste em tocar erroneamente as frágeis obras, os jovens monitores pareceram perdidos frente tal demanda.
Instalações como Forty Part Motet, de Janet Cardiff, têm filas para controlar o fluxo mas alongam demais a espera. Ao mesmo tempo, para almoçar nos restaurantes há mais filas. À entrada do bandejão Oiticica, uma hostess chamava nomes ao microfone e tornava desagradável a experiência de quem estivesse à mesa ou visitando o Penetrável Magic Square #5, de Hélio Oiticica, em frente. Em um momento a impressão na parte baixa do enorme parque era de saturação, embora no dia foram contabilizados 3 mil visitantes.
Inohtim, contudo, é sempre bom e sua sustentabilidade depende tanto das belezas e qualidade dos serviços, quanto da integridade da coleção de arte capaz de cativar uma massa desejosa por entretenimento diferente. Os pontos altos são muitos e maiores, e como destaque há a obra de dança e performance de Babette Mangolte (1941), na Galeria Mata, além da deslumbrante T-téia no pavilhão de Lygia Pape cuja simplicidade, poesia e leveza, distantes do barulho do espetáculo, são próximos da melhor arte para se apreciar no silêncio.
*Texto original da versão publicada em Jornal O Globo, Segundo Caderno, 17/07/2015.